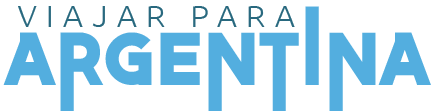Você terá percebido. A menos que tenha passado os últimos anos escondido no deserto ou perdido nas montanhas. Existe uma trilha sonora universal que sempre espreita, ao mesmo tempo e em todos os lugares. E não é reggaeton: estamos falando de versões de hinos do pop e do rock, interpretadas por vozes melífluas e com uma tênue instrumentação seudojazz ou com ares bossa nova. Uma pandemia de música supostamente elegante, altamente corrosiva e com uma capacidade de propagação incomum que não só tomou conta dos cafés, dos restaurantes e dos afterworks. Também das séries, propagandas e programas de grande audiência, em parte graças a fenômenos como “Mi casa es la tuya”, o programa de televisão de Bertín Osborne.
Suas origens e autoria são, na maioria dos casos, um mistério: muitas dessas versões brasileiras são executadas por grupos e solistas fantasmas. Elas obtêm milhões de reproduções no Spotify e são apoiadas por gravadoras especializadas, transformando a Espanha em uma filial liofilizada da Praia de Ipanema. “Posso entender”, admite Diego A. Manrique, o crítico musical histórico. “Quando se fala na revolução musical dos anos sessenta, pensa-se nos Beatles, embora tenha havido uma segunda, a bossa nova, que não era tão chamativa, mas penetrou em todos os países do mundo. E, em sua vertente instrumental, se infiltrou nos hotéis, nos clubes e nos restaurantes, porque não era música rebelde”.
Para Manrique, o gérmen desse fenômeno está na gravadora argentina Music Brokers, que no início do milênio começou a lançar os álbuns recopilatórios “Bossa n’ e Jazz and”, nos quais as canções de Ramones, Madonna, Rihanna, Bob Marley, Adele ou Guns N’ Roses recebiam o verniz bossanovista ou smooth jazz correspondente. Não foi possível contatar a Music Brokers, mas Manrique deduz: “Devem ter uma equipe ampla de instrumentistas e cantores, aos quais batizam com nomes inventados para dar a sensação de que são muitos os que participam”, explica o jornalista. “Embora a criatividade estivesse nas capas, que afirmavam claramente: ‘Estes são discos para fazer amor’. Quase todos tinham capas semelhantes: o púbis de uma garota de biquíni ou com um jeans recortado, de acordo com o estilo musical. O acerto, entre aspas, era vendê-lo como um produto erótico e sofisticado, e dar-lhe um som mais contemporâneo do que os LPs dos anos sessenta ou setenta”.
Também destaca a manobra de inventar toda uma cena de rock com aroma de bossa nova, “quando não havia tal movimento, mas sim coisa de uns caras muito espertos. É um engano maravilhoso que funcionou. São discos que me fazem rir. Não posso negar que na rádio eu coloquei algum. É que dão a impressão de que você não está ouvindo versões feitas de forma mercenária, mas sim um projeto artístico com identidade, quando na realidade é uma fábrica de linguiças musicais”.
Charlie Sánchez foi diretor geral da DRO de 2000 a 2007 e presidente da Warner Music Spain de 2007 a 2020. São as gravadoras que em 2005 começaram a licenciar na Espanha as compilações da Music Brokers, que na época ainda tinha sede na Argentina (mais tarde mudou-se para os Estados Unidos). Sánchez conta como, com a desvalorização do peso no país sul-americano, grandes músicos locais se viram trabalhando precariamente. “Muitos se envolveram nesses projetos, que tecnicamente são supercorretos. E há até genialidades”, argumenta em conversa telefônica. “Arriscar levar as canções dos Rolling Stones para a bossa nova é tremendo, por isso publicamos”.
Ele se refere a “Bossa n’ Stones” (2005), o primeiro artefato brasileironista da Music Brokers, onde já se havia a cantora argentina Karen Souza interpretando “Wild Horses”. Ela é uma das poucas artistas que triunfou ao vivo com esse gênero, se apresentando em locais como o Galileo Galilei em Madri ou em festivais como o Guitar BCN em Barcelona. A argentina havia estreado pouco antes na coletânea “Jazz And ’80s”. “Eu estava muito envolvida com o lounge e o chill house”, lembra por telefone de Buenos Aires. “Me escutaram e me convidaram para cantar em estilo jazz, algo que nunca tinha experimentado. Depois descobri que minha versão de “Do You Really Want To Hurt Me?” (o sucesso do Culture Club de 1982) foi a mais ouvida do disco. A partir daí consegui construir uma carreira pessoal”.
Souza se tornou a voz latina de jazz mais reproduzida do mundo (apenas sua adaptação de “Every Breath You Take”, do The Police, acumula 70 milhões de reproduções). “São grandes canções que, em estilo rock, seriam um pouco fortes demais para um supermercado, e de certa forma se valorizam ao trazê-las de volta ao presente com um ritmo diferente”, afirma Souza, que acabou de lançar “Suddenly Lovers” (2023), com composições originais que ela mesma produz.
Segundo Charlie Sánchez, que agora lidera seu próprio selo de artistas emergentes, Metales Preciosos, a precursora disso é Rita Lee, a cantora e fundadora do Os Mutantes, a banda tropicalista e psicodélica dos anos sessenta. Em 2001, ela gravou “Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar”, um álbum de versões dos Beatles, editado por um selo brasileiro, que tinha um adesivo com a inscrição Bossa n’ Beatles com o objetivo de torná-lo mais atraente para o grande público. “Quem me dirá que Rita Lee não tem autoridade para fazer isso. Esse disco é fundamental”, argumenta. Em sua opinião, outra influência desse estilo é José Padilla, um dos inventores do chill out e do som balearic dos anos noventa. “Um produtor que na Espanha nunca foi valorizado o suficiente. Eles dois são os padrinhos indiscutíveis desse gênero”.
Ninguém fica chocado em ouvir o Concerto de Aranjuez na guitarra flamenca de Paco de Lucía”, argumenta o ex-chefe da DRO. “Estou levando ao extremo, mas uma vez que um repertório é publicado, ele é suscetível a diferentes interpretações. É o que se diz: ‘Música conhecida, música aplaudida’. Sánchez reconhece que quando trabalhava com Federico Scialabba, presidente da Music Brokers, para editar na Espanha seus primeiros recopilatórios, a empresa de Buenos Aires já contava com um catálogo de 15.000 composições. “Eles tinham muitas equipes de produção”, lembra. “Era algo parecido com o que acontecia com a Motown ou a Stax, cujos músicos tocavam com uma infinidade de artistas, como The Supremes ou Marvin Gaye”.
Houve um momento em que essa confluência entre rock e bossa nova foi recebida de braços abertos no cenário indie. Em 2004, a dupla parisiense Nouvelle Vague lançou seu álbum de estreia homônimo pelo selo independente Peacefrog. Suas adaptações de temas punk, post punk e new wave (bandas como Undertones, The Clash ou The Cure), nas quais contavam com cantoras convidadas como Camille, eram a sensação em certos ambientes. “No começo fomos uma surpresa, porque éramos um conjunto de versões, mas também um grupo alternativo que podia ser visto ao vivo. Não éramos apenas lounge”, comenta por videochamada Marc Collin, o único membro original do Nouvelle Vague após a morte de seu parceiro Olivier Libaux em 2021. “Todos acharam que era uma ideia genial, embora tenha havido quem pensasse que este era um projeto para ouvir em coquetéis, quando a maior parte de nossa audiência era fã das bandas originais. Muitos nos agradeciam por termos dado uma segunda vida a essas composições”.
Em fevereiro, Nouvelle Vague lançou seu quinto álbum, “Should I Stay Or Should I Go?”, no qual adicionam sintetizadores para desconstruir outros grandes sucessos dos anos oitenta. Collin lembra como eles foram pioneiros nessa fusão. “Acho que surgiu para mim em 2003. Perguntei a alguns amigos o que achavam da ideia de fazer músicas do Depeche Mode ou Joy Division em estilo bossa nova. Todos acharam estranho. Aquilo continuava na minha cabeça, então junto com Olivier decidimos gravar quatro músicas. Logo percebemos que era algo muito fresco”.
Sem querer, o casal francês solidificou um novo tipo de música lounge, de música de elevador. “É verdade”, admite. “Mas naquela época ninguém queria fazer versões dos anos oitenta, porque não eram nada legais. De repente, o público percebeu que aquelas músicas, que poderiam ser muito punk ou muito eletrônicas, tinham grandes melodias. Muitas das coisas que surgiram depois são produtos puramente comerciais, não há nenhum grupo por trás. São apenas playlists para hotéis. É totalmente diferente do que fizemos. Não somos um produto de marketing. Às vezes fico um pouco chateado com esse boom, especialmente quando vejo algo muito inspirado no Nouvelle Vague”.
Talvez o problema não seja o som, mas sua ubíqua presença atual. “Eu diria que essas versões de rock com um verniz brasileiro estão incomodando há cerca de dez anos”, afirma Juan Laguna, diretor artístico do clube Recoletos Jazz. Laguna lidera a programação deste clube dedicado às delícias do jazz e do flamenco, e também colabora como consultor musical para restaurantes: até o ano passado, dirigiu a música do Grupo Paraguas, dono de restaurantes conhecidos como Amazónico ou Aarde em Madri. “Esse som se popularizou com o programa de Bertín Osborne. Era kitsch em escala maior, mas com pretensões de elegância, que é o ponto desta música. Como o ritmo é de bossa nova e a melodia geralmente é boa, porque vem de um hit, parece sofisticado, quando na verdade é completamente kitsch”.
Laguna destaca o sucesso desse som: “É uma música com muito pouca dinâmica. As versões de bossa nova são concebidas para que os clientes falem sobre elas e se sintam confortáveis. Elas não procuram emocionar, porque o que emociona é a melodia da música que aquele ouvinte já conhece. A ideia é que elas não incomodem e possam ser tocadas alto, porque precisam acompanhar o cliente, lutar contra sua solidão, criar ambiente. Nesse sentido, são perfeitamente feitas, são maravilhosas”. Existem empresas especializadas em criar essas trilhas sonoras, que são organizadas de acordo com o horário: almoço, lanche, jantar ou drinks. “Está tudo muito mecanizado”, explica Laguna. “O essencial é que sejam músicas muito planas: no momento em que têm certo relevo, o cliente se sente desconfortável. Nada a ver com a bossa nova dos anos sessenta e setenta. Aquelas composições foram concebidas para serem apreciadas, não para servirem de fundo enquanto se come alcachofras”.
Essas versões atingiram seu ápice há seis ou sete anos e ainda persistem. Algo semelhante ao que aconteceu no início do século com a invasão de música lounge em terraços e barracas de praia. “Ambas são músicas muito lucrativas”, acrescenta Laguna. “Geram muitos direitos autorais porque são tocadas em todos os lugares: às vezes uma música toca até dez vezes no mesmo restaurante no mesmo dia. E acho que ainda tem muito a render”. O aroma onipresente brasileiro gera em Laguna um certo morbo. “Isso me desperta muita curiosidade. Eles fazem muito bem! Se a mim, como profissional, chama a atenção, imagine alguém que não é. Curiosamente ele vai gostar! Além disso, intelectualmente, você não se sente um tolo, porque reconhece o que está tocando. Por um lado, me excita imaginar quem engendrou isso, mas por outro, acho um horror que mate a alma de grandes composições”. Charlie Sánchez, é claro, não poderia concordar. “Não deve ser tão ruim, já que passou pelo tempo. É surpreendente que soe mais do que nunca. Talvez nós na Warner não fizemos isso tão bem na época. Ou o contrário: fizemos tão bem que desse rescaldo tudo isso pegou fogo”.