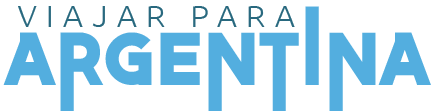Quando alguém me pergunta se desejo ter filhos, talvez porque já tenha 40 anos e as únicas criaturas vivas sob meus cuidados sejam dois cachorros e uma suculenta um tanto danificada, sempre respondo o mesmo: “Não, a maldição termina comigo”.
A reação do outro costuma ser uma gargalhada. Eu também rio e mudo rapidamente de assunto para não ter que esclarecer que estou falando muito sério, que estou determinado a fazer minha parte, a dar o meu melhor, para apagar essa linhagem da face da Terra.
Gostaria de dizer que me movem razões nobres ou, pelo menos, interessantes: condições genéticas graves que não desejo transmitir, um fervor religioso que me chama ao celibato ou uma vida tão estimulante que seria absurdo interrompê-la para criar um bebê. Mas não. Sou uma pessoa relativamente saudável (além da escoliose e uma obsessão pouco saudável por alimentos ultraprocessados), minha castidade é absolutamente involuntária e minha vida é tão divertida quanto pegar o metrô na hora do rush.
Na verdade, meus motivos têm origem em um estudo meticuloso pessoal que, durante inúmeras noites insones, avaliou o desempenho das últimas três gerações de homens da minha família (incluindo eu). A conclusão? É preciso pedir a falência desta franquia de uma vez por todas.
Vamos aos fatos. Nunca entendi meu pai. Nos churrascos e encontros com amigos, ele tinha um riso expansivo e um temperamento animado que encantavam a todos. No entanto, ao entrar em casa, sua expressão se tornava sombria. Ele nos cumprimentava sem entusiasmo, com o afeto que se poderia esperar de um golem recém-animado e se afastava a passos largos até seu quarto para se trancar.
Minha mãe levava o jantar para ele, que comia sozinho em sua cama, iluminado apenas pelos feixes verdes e azuis que a televisão projetava sobre seu corpo. Ao terminar, ele deixava os pratos sujos do lado de fora do quarto e fechava a porta. Além de algumas tentativas fracassadas de me conectar com ele em minha vida adulta, a distância entre nós só aumentou com o tempo. Quando ele faleceu, estávamos há dez anos sem nos falarmos.
Meu avô, a quem conheci pouco na minha infância, não devia ter sido muito melhor. Quando meu pai ainda era criança, ele o depositou em um internato em Córdoba para que o ar das serras o ajudasse a superar seus recorrentes episódios de asma. Entendi que mal o visitava durante esses anos e que a experiência foi traumática. Nas poucas vezes que meu pai falava desse período, sua expressão se tornava mais sombria do que o normal, sua voz apenas um sussurro murmurando vaguidades.
Eu não me saí muito melhor. Me tornei um humano bastante medíocre que, aos 40 anos, já fracassou em um casamento e acumula mais arrependimentos do que assinaturas de streaming. Qual a razão que tenho para pensar que posso fazer um trabalho melhor do que eles? Sim, me desdobro pelos meus cachorros, aos quais tento atender todos os seus caprichos, isso significa que tenho o necessário para ser um bom pai? Se pudesse falar, a suculenta contaria outra história.
Parece que somos vários que pensam sobre esses assuntos. Um levantamento da Universidade Austral (muito mais sério do que minhas elucubrações noturnas) determinou que, por ano, nascem no país 260.000 bebês a menos do que há uma década. As razões vão desde o adiamento da idade materna e a queda nas adoções até as dificuldades de formar um casal. Pergunto-me se nessa estatística estamos nós que duvidamos da nossa capacidade de reverter essas criações pouco ideais.
De tempos em tempos, um amigo que tem família própria ouve esses argumentos e tenta me convencer de que posso ser um bom pai. Ele diz que os filhos são “fáceis” e que, depois de um tempo, o sacrifício vale a pena. Eu sempre respondo que sim, que ele deve estar certo e mudo rapidamente de assunto.