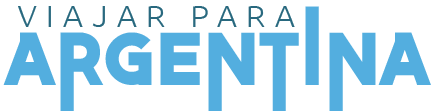Até o dia 6 de outubro de 2023, Luis Har (Buenos Aires, 71 anos) era um cidadão anônimo que dividia sua vida em Israel entre dois kibutz próximos a Gaza: Urim, onde se estabeleceu após emigrar da Argentina em 1971, e Nir Itsjak, onde sua parceira, Clara Marman, morava. Naquele dia, ambos desfrutavam de um feriado com dois irmãos e uma sobrinha de Clara e decidiram passar a noite. Ao amanhecer, um grupo de milicianos irrompeu de surpresa na casa, os colocou à força em um veículo e os levou para Gaza, enquanto um miliciano do Hamas disparava para o ar e gritava “Alá é o maior”. Eles se tornaram cinco (todos com dupla nacionalidade argentina e israelense) dos mais de 250 reféns que as milícias palestinas tomaram naquele dia.
Seus captores os levaram por três horas por um túnel escuro (uma das lembranças que mais marcou Har) e acabaram juntos em um apartamento. Até 28 de novembro, quando as três mulheres (a sobrinha Mia é a adolescente de óculos cuja foto se tornou famosa ao sair com um cachorrinho nos braços) recuperaram a liberdade em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos e de uma semana de cessar-fogo, a única em oito meses de guerra. Luis e seu irmão Fernando pensavam que seriam os próximos. Tanto que os cinco se despediram com a frase: “Nos vemos em dois ou três dias”, contou Clara Marman após sua libertação.
Não foi assim. Em 1º de dezembro, o cessar-fogo expirou, sem acordo para prorrogá-lo. “Quando começamos a ouvir os bombardeios (israelenses) às 7h, Fernando e eu nos olhamos e dissemos: ‘Não sairemos daqui’. Entendemos que o acordo havia terminado e ficamos um pouco desanimados. A partir daquele momento, ao final do dia, dizíamos: ‘Um dia a menos na prisão’. Sabíamos que era um a menos. Não sabíamos quantos, mas isso nos dava esperança.”
Foram mais 76 dias em que o que mais os assustava era ouvir os aviões israelenses. “Não sabíamos para onde iam ou onde iriam atacar […] Às vezes, o zumbido das bombas que passavam perto era ouvido, não sei se acima de nossa cabeça, ao nosso lado. Vidros das janelas se quebraram várias vezes. Caindo a 200 ou 300 metros e podíamos ouvir. Tremia como num terremoto. O chão se movia. Primeiro sentíamos a tremulação e depois a explosão. Isso sim deixava tenso”, lembra.
Har cozinhava para todos, incluindo seus captores, quando havia ingredientes. Com senso de humor intacto, ele recorda como no primeiro dia os milicianos islâmicos se aproximaram da mulher mais velha (Clara, 61 anos) com batatas e disseram para ela cozinhar. Ela respondeu: “Se querem comer, melhor que Luis cozinhe”. Era quando “havia de tudo” para preparar os pratos. Depois, com as restrições israelenses à ajuda humanitária, que deixaram áreas de Gaza à beira da fome, houve dias em que mal recebiam um pão árabe para compartilhar.
Quando ficaram sozinhos, os dois homens fantasiavam – um pouco em brincadeira, um pouco a sério – com um comando das forças especiais israelenses aparecendo e os resgatando. Isso aconteceu em 12 de fevereiro, acompanhado por bombardeios intensos que causaram dezenas de mortes. Har pediu a um dos soldados que confirmasse que “não estava em um filme”.
É assim, esclarece, como se sente hoje, transformado em celebridade que todos saúdam e sorriem no prédio de Tel Aviv onde recebe este jornal. É a sede do Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, o principal lobby em prol do retorno negociado dos 129 reféns que permanecem em Gaza, pelo menos um terço deles sem vida. O assunto agora é central na vida de Har, apesar de ser um dos únicos sete resgatados pelo exército em oito meses, e posa com uma camiseta com a mensagem: “Tragam-nos de volta para casa” e a fita amarela que identifica o movimento. Ainda não pode voltar para sua casa no kibutz Urim porque não concluíram a chamada “sala segura” onde se refugiar dos foguetes de Gaza. Hoje, esporádicos, mas mais de 3.000 em poucas horas naquele 7 de outubro.
Durante seu cativeiro, Luis Har não sentiu que seus captores os odiavam. “Eles nos aceitaram como somos. Não houve nenhuma intenção de nos matar, mas foi uma situação estranha para eles e para nós”, descreve. Nunca disseram isso, mas sentiu, de fato, que teriam ficado “encantados” em entregá-los “no segundo dia”. Mas o tempo passava, sem troca, e acabou gerando uma espécie de pacto implícito baseado na confiança. “Estou aqui também porque eles sentiram que não tinham que temer. Que havia uma certa confiança de que estávamos juntos na mesma situação. Eles, de seu lado; nós, do nosso. Eles também não viam a família, não viam ninguém. Estavam lá conosco […] Tentamos demonstrar confiança. Que não iríamos escapar ou fazer alguma coisa”.
Nunca foram agredidos. Às vezes comiam todos juntos. Mas Luis nunca quis esquecer o lugar que cada um ocupava na equação. “Sabíamos que se recebessem a ordem de nos matar, não hesitariam. Nos matariam na hora”, enfatiza. Também os “limites” sobre o que dizer ou como. Evitaram falar de política. Ele tentou uma vez e não deu muito certo. “[O dono da casa] nos disse: ‘o que estão fazendo aqui? Vocês são argentinos. Vão morar na Argentina. Isso é a Palestina’. E não havia como convencê-lo do contrário. Tentei falar um pouco, mas vi que não adiantava nada”.
Luis distingue entre “o dono da casa” em que estavam sequestrados – com quem desenvolveu uma “espécie de confiança” – e os milicianos que passavam por ali, “mais agressivos” e sempre armados. Com o primeiro, chegaram a “trocar pensamentos, coisas” como podiam. “Mãos, pernas, olhos… Tudo vale desde que se entendam. Eu não entendo árabe. Ele não entendia muito hebraico. Algumas palavras aqui ou ali, em inglês. No final, nos entendíamos e com ele pudemos chegar a um certo diálogo sobre coisas diferentes”.
Mesmo brincavam. “Uma vez disse a ele: ‘o que está acontecendo aqui!? Não tem farinha, não tem carne… Não tem nada. Ele me olhava assim, ria e dizia a Fernando: ‘só protesto’. Eu disse: ‘sabe de uma coisa? Eu vou embora’. Sabe o que ele fez? Abriu a porta para mim e fez assim [faz um gesto de convite para sair com a mão]. ‘Não, não, eu fico. Obrigado…’. Sair para a rua ali com todos… Isso te explica um pouco a situação. Que, dentro de tudo, ele sabia como estava conosco”.
As brincadeiras eram acompanhadas, no entanto, de frases de “guerra psicológica”. Ele dizia, por exemplo: “Por que vão voltar para o kibutz se dentro de dois ou três anos vamos explodi-lo de novo?”. Ou pedia que falassem baixo, para que os drones israelenses que sobrevoam Gaza não os detectassem e o primeiro-ministro, Benjamín Netanyahu, enviasse caças-bombardeiros para destruir o prédio, porque preferia-os mortos a trocáveis. “Toda vez que o exército derrubava um prédio” em Gaza, diziam que muitos sequestrados israelenses tinham morrido. Embora não tivessem acesso a celulares e notícias, sabiam que não eram os únicos e até orgulhosamente contaram o número verdadeiro: mais de 250.
Com os milicianos, ele destaca que “era preciso ter mais cuidado”. Nunca os viu sorrir e sua única interação foi quando um deles se aproximou depois de comer e disse, de passagem e em tom baixo para que os outros não ouvissem: “Obrigado pela comida”.
Har insiste duas vezes que não tinha medo, que não é a palavra. Era “cuidar-se, sobreviver”. E a privação de liberdade os levava a ter baixos emocionais, e eles se apoiavam conforme quem dos cinco estava mais inteiro. “Só podia estar sentado ou deitado. Não podia decidir nem fazer nada. Não tínhamos nem uma folha ou uma caneta. Nada. E assim os dias passavam…”. Como o tempo parecia interminável, Luis – apaixonado por teatro, danças folclóricas e culinária – tentava matá-lo contando histórias. Também imaginavam viagens (“falávamos em voltar a Bariloche, às Cataratas do Iguaçu, a Ushuaia”…) ou compartilhavam receitas para um futuro incerto.
Não sabiam que dezenas de milhares de israelenses protestavam por sua libertação. Nem que suas imagens enfeitavam ruas, praças, viadutos e até o principal aeroporto do país. Ele tinha se conformado com a ideia de que poderia sair de Gaza sem vida e estava em paz com isso. Sentia que, aos 71 anos, tinha vivido o suficiente, e sua “assinatura”, como ele chama, estava em seus quatro filhos e 10 netos. “Não pensamos que [as autoridades] nos esqueceram, mas o tempo passava e nada acontecia […] Não sabíamos se éramos suficientemente importantes. Foi uma surpresa que nos tirassem de lá da forma como fizeram”.
Insiste que não quer falar de política, mas no final cede. Afirma que a experiência mudou sua visão do conflito no Oriente Médio. Que já não acredita que haja com quem conviver, nem quer ver novamente seus “amigos de Gaza que trabalhavam no kibutz”. Voltou um dia ao outro kibutz, onde foi sequestrado, e quase não aguentou: “Não pude nem entrar na casa. Fiquei paralisado”.
Continue acompanhando todas as informações internacionais no Facebook e Twitter ou em nossa newsletter semanal.